Ações para uma transição energética
justa e democrática ao nível local
A energia tem sido, ao longo dos tempos, um fator de mudança da sociedade. A forma como produzimos, convertemos, transportamos, gerimos e consumimos energia revela não apenas a relação que temos com o meio ambiente mas, acima de tudo, relações de poder na sociedade.
No entanto, essas relações são diferentes de país para país e foram evoluindo desde os tempos em que as fontes dominantes eram a água, o azeite ou o vento e tomaram outras proporções quando os combustíveis fósseis se tornaram na base do atual modelo económico - o capitalismo -, espoletando a crise climática. Este modelo é caracterizado por uma obsessão com o crescimento económico, a apropriação e exploração de recursos naturais comuns e a sua transformação em mercadorias por empresas que, desta forma, aumentam constantemente o seu poder.A crise climática é a mais grave crise produzida por este modelo económico e responder-lhe é uma tarefa emergente. Entre as ferramentas económicas, políticas, sociais e tecnológicas que estão ao nosso alcance, construir uma transição energética assente em fontes renováveis é a mais importante.
A transição para um modelo de produção de eletricidade renovável descentralizada transporta consigo o potencial de abrir uma porta para um modelo económico alternativo, não mercantil, em que o poder deixa de estar concentrado em grandes empresas privadas que exploram um bem de primeira necessidade, priorizando o seu lucro em detrimento do bem estar das pessoas. No entanto, essa porta não está aberta à partida. Um modelo energético assente em energias renováveis descentralizadas pode também estar assente na extração, mercadorização e exploração de recursos naturais, pessoas e territórios, se seguir as mesmas lógicas económicas de um sistema fóssil centralizado. Não basta, portanto, alterar o paradigma tecnológico para que a transição energética seja automaticamente democrática, ecológica e justa.
Como em tudo o resto, é a capacidade da sociedade de influenciar e transformar o presente que determina o futuro, e a transição energética não é exceção. Aquela que é concebida pelas empresas do setor energético, cujo único objetivo é o lucro, não é necessariamente aquela que interessa às comunidades que habitam os territórios. As políticas públicas para a transição energética, nos vários níveis de poder e decisão, deveriam responder às necessidades destas comunidades. Mas isso só é possível com o seu envolvimento e um empenho sério por parte do poder local, com vista a uma mudança de paradigma energético e socioecológico.
Estas políticas têm necessariamente de conduzir a um modelo energético que seja sustentável, saudável, descarbonizado, descentralizado, distribuído, participativo, transparente e socialmente justo. Para isso, a energia, em geral, e a energia renovável, em particular, deve ser vista como um bem comum, coletivo e comunitário. Só assim poderá contribuir para uma tarefa de grande importância na atualidade: a libertação deste bem do controlo das grandes empresas e da economia de mercado desregulada.
Para isso, a produção, transporte e consumo energético deverão ser controlados e assegurados pelos cidadãos, a partir de organizações democráticas e sem fins lucrativos, das instituições do poder local (câmaras municipais e juntas de freguesia) às cooperativas e movimentos sociais, passando pelas agências de energia, fundações, associações e organizações da economia social que não se regem pela lógica de acumulação e concentração de riqueza como as grandes empresas privadas. A energia renovável é um bem que não pode ser regulado apenas por critérios económicos - a sua gestão tem de priorizar a justiça social e respeitar a integridade dos sistemas ecológicos. Na energia, à semelhança de outros bens comuns, como a água, a partir do momento em que o lucro na exploração destes recursos naturais é obtido à custa da destruição dos ecossistemas e da disrupção do clima, torna-se urgente definir uma nova abordagem que se centre no combate às alterações climáticas.
Porquê um conjunto de propostas
a nível local?
Responder à crise climática é uma tarefa que se desenvolve em vários níveis (nacional, internacional, global), e existe um lugar de destaque para a escala local: para os municípios, as freguesias, os bairros, as ruas e para as comunidades que habitam esses territórios.
A produção de eletricidade a partir de fontes renováveis e a sua gestão comunitária e sustentável é um processo que pode - e deve - ser alavancado em todos os municípios que queiram seriamente combater os efeitos nefastos da crise climática e fomentar uma transição energética justa e transparente.
A apropriação local da energia é uma condição necessária para uma capacidade real de enfrentar as múltiplas crises que atravessam os municípios: a crise da habitação, do custo de vida, da perda de democracia e, obviamente, a crise climática.
Os municípios, não apenas as suas instituições de tomada de decisão mas o território em si e as pessoas que o habitam, são a primeira linha de resposta à crise climática. É aí que é possível, numa primeira instância, construir uma visão da energia como bem comum a partir da construção de sistemas públicos e comunitários de produção, distribuição e consumo de energia. É aí que é mais fácil construir espaços de decisão democrática e coletiva sobre o futuro energético de uma cidade ou de um bairro a partir de projetos concretos em escolas, hospitais, jardins, praças, condomínios, bairros sociais, associações, igrejas e locais de trabalho. É aí que é intuitiva a construção de lógicas solidárias no campo da energia, o que pode levar à mobilização e luta pelo direito à energia, mas também à pressão e influência na definição de políticas públicas ao nível do poder autárquico, rumo à Democracia Energética.
No próximo dia 12 de Outubro terão lugar as eleições autárquicas em Portugal. As Câmaras Municipais e as Juntas de Freguesia, como espaços de decisão e poder ao nível local, são uma parte essencial da construção da transição energética. No entanto, o modelo de gestão autárquico atual é, em muitos casos, altamente permeável às pressões económicas e políticas de grupos e interesses privados, pelo que existe opacidade, abusos de poder, corrupção e tráfico de influências a diferentes níveis. Embora o objetivo principal deste conjunto de propostas não seja analisar o poder local e as suas instituições, é importante alertar para os perigos inerentes à manutenção das estruturas e formas de governação existentes, que, ao abordar o tema da transição energética, irão certamente deturpar os valores e a configuração da transição energética que aqui é defendida. Convocar as comunidades para construir uma transição energética de baixo para cima ao nível local significa que o poder e a tomada de decisão política se devem exercer no interesse das pessoas e dos territórios.
Este conjunto de propostas cumpre diferentes propósitos:
Propostas e Ações
Para que se possa planear e construir uma transição energética justa, coletiva e democrática, as cidades, os municípios e os seus cidadãos têm o direito de saber como é produzida, distribuída, transportada, consumida e desperdiçada a energia no seu território. Deve-se mapear os fluxos e os metabolismos energéticos de forma a identificar assimetrias no consumo e no acesso à energia. Existem zonas em que as redes elétricas estão modernizadas e o serviço não sofre interrupções, existem outras onde não é assim. Existem zonas em que as comunidades têm capacidade económica para financiar a instalação de energias renováveis, tais como sistemas fotovoltaicos, e comunidades que não o conseguem fazer. Deste modo, deve ser levada a cabo uma auditoria energética a nível municipal focada nas pessoas, baseada em princípios de justiça social, solidariedade e cooperação. O foco deve ser colocado nos consumos energéticos para as necessidades básicas (aquecimento, alimentação, limpeza, higiene, lazer) e nos usos comunitários, com o intuito de aferir o que é supérfluo e desnecessário e quais os consumos essenciais à vida. Assim, propõe-se:
Apenas um modelo energético 100% renovável permitirá reduzir, de forma efetiva, as emissões de gases com efeito de estufa e contribuir para enfrentar a crise climática. A produção existe em diversas escalas no sistema energético português. Nas habitações, edifícios públicos e empresas pode-se instalar sistemas de produção em regime de autoconsumo. Fora das cidades, e especialmente nos espaços rurais, têm surgido, na última década, sistemas de grande dimensão centralizados que muitas vezes têm como objetivo alimentar grandes projetos industriais ou mesmo cidades que se encontram a muitos quilómetros de distância. Estes projetos são muitas vezes desenvolvidos ignorando os conflitos sociais e ambientais que geram.
Um sistema 100% renovável necessitará de equipamentos de diferentes escalas, dimensões e tecnologias (energia solar fotovoltaica, eólica, armazenamento, gestão de consumo, entre muitas outras), desde que adequados ao local em que se inserem e orientados por objetivos comuns, como, por exemplo, a auto suficiência energética local e a priorização de sistemas de produção e consumo partilhados e comunitários.
Para operacionalizar estes objetivos, os municípios precisam de:
De acordo com os dados do Observatório Nacional da Pobreza Energética, estima-se que, em Portugal, entre 1,8 a 3 milhões de pessoas se encontrem em situação de pobreza energética, das quais entre 609 mil e 660 mil em pobreza energética severa.
A pobreza energética resulta principalmente de quatro fatores:
A pobreza energética é responsável por graves problemas de saúde. Durante o inverno, quem não consegue aquecer suficientemente as casas acaba por viver em ambientes interiores excessivamente húmidos, propícios à formação de bolores também eles altamente nocivos à saúde. Mas também no verão a incapacidade de manter um nível de conforto térmico adequado nas habitações tem um preço elevado. Este ano, durante a onda de calor de fins de julho (com consequências dramáticas), registaram-se mais 264 mortes do que o esperado É expectável que, no futuro, as alterações climáticas, que no nosso país se refletem numa maior pluviosidade no inverno e num aumento das ondas de calor no verão, provoquem um agravamento destes problemas.
A pobreza energética é, portanto, um problema estrutural grave a nível nacional, e numa análise mais detalhada deste fenómeno revela as fortes desigualdades territoriais, económicas e sociais que dividem o país. Assim, a primeira frente de luta contra a pobreza energética ocorre, obrigatoriamente, a nível local. Qualquer intervenção para mitigar os efeitos da pobreza energética tem de ser feita com as pessoas que são vítimas deste problema e nos locais onde elas vivem.
Que instrumentos têm os municípios para combater as desigualdades, melhorar a qualidade das habitações e dar apoio direto às pessoas mais vulneráveis, que sofrem de forma exacerbada os efeitos da má qualidade das suas habitações?
Antes de mais, os municípios têm a obrigação de assumir responsabilidades nesta área: definir prioridades; procurar o acesso continuado a financiamento; criar infraestruturas comunitárias (espaços de refúgio contra o frio e o calor) para os mais vulneráveis; apoiar continuamente o melhoramento do parque habitacional mais deficiente do ponto de vista energético; assegurar a sustentabilidade de investimentos e pressionar o governo para a criação de habitação de rendas controladas, apoiando igualmente a ocupação e recuperação de casas devolutas; promover comunidades de energia renovável em bairros vulneráveis.
Abaixo, são enunciadas algumas mensagens-chave que resultaram da discussão sobre pobreza energética nas Jornadas pela Democracia Energética, realizadas em 2024:
Para dar corpo a uma verdadeira transição energética centrada no território, sugerem-se as seguintes ações ao nível municipal:
As Comunidades de Energia Renovável (CER) representam um dos instrumentos com maior potencial para materializar uma transição energética justa e democrática a nível local. Ao possibilitarem que cidadãos, autarquias, pequenas e médias empresas ou outras entidades locais públicas e privadas se organizem coletivamente (por exemplo, através de uma cooperativa ou associação) para produzir, consumir, partilhar e armazenar energia renovável, as CER redistribuem o poder político-económico, reduzem a dependência face às grandes empresas privadas e colocam a energia renovável ao serviço das necessidades das comunidades e territórios onde se inserem. São, por isso, um dos pilares de uma visão da energia como bem comum, que deve ser gerida de forma participativa, transparente e solidária. Além disso, as CER não visam o lucro, mas sim benefícios sociais, económicos e ambientais para os membros e para as localidades onde operam. No entanto, atualmente, em Portugal apenas duas CER estão ativas e a maioria dos projetos existentes são autoconsumos coletivos (ACC) que perpetuam lógicas de mercado e de concentração de poder.
Para os municípios, apoiar a criação e o desenvolvimento de CER significa assumir um papel ativo no combate à crise climática, ao mesmo tempo que se mitiga a pobreza energética e se promovem soluções concretas de justiça social. Uma política local que valorize e apoie estas iniciativas pode garantir que a transição energética não fica refém de lógicas de mercado e de exclusão, mas que se constrói a partir dos territórios e com a participação direta das comunidades.
As medidas que se seguem traduzem este compromisso em propostas práticas e exequíveis para o poder autárquico. Pretendem inspirar programas eleitorais e políticas locais que coloquem a democracia energética no centro da ação municipal, garantindo que os benefícios da transição energética chegam a todos, em especial às famílias mais vulneráveis, e que o futuro energético é decidido de forma coletiva e solidária.
As redes de distribuição de eletricidade em baixa tensão (BT) são uma infraestrutura essencial para garantir sistemas energéticos 100% renováveis num modelo energético público e comunitário.
Embora largamente desconhecido do público em geral, facto é que, em Portugal, as redes BT pertencem aos municípios, que podem assegurar a sua gestão através, por exemplo, de empresas municipais ou concessioná-las a terceiros. A grande maioria dos municípios portugueses concessionou as suas redes BT à EDP quando esta ainda era uma empresa pública. Com a privatização da EDP, as concessões existentes passaram, sem grandes cerimónias, para as mãos da empresa privada EDP-Distribuição que, mais tarde, passou a chamar-se E-Redes. Também sem que tenha havido uma larga discussão pública sobre o assunto, esta empresa privada do Grupo EDP assumiu automaticamente a gestão de praticamente todas as redes BT do país.
Hoje, as redes BT municipais são, de facto, geridas como um monopólio privado. Neste momento, o termo de validade das concessões existentes acabou e é altura de os municípios tomarem decisões estratégicas sobre um património que, por direito, lhes pertence. Os municípios devem tomar esta decisão de forma consciente, conhecendo exatamente os valores patrimoniais em causa e equacionando os prós e contras da gestão desse património pelo próprio município ou por concessionários privados.
Considerando o papel que as redes de distribuição assumem na transição energética, esta decisão deve ser orientada pelos seguintes critérios:
Para que a transição energética ao nível local não seja meramente uma imposição de cima para baixo, as comunidades têm de se afirmar como parte ativa na tomada de decisão. Para isso, é necessário que ganhem autonomia para poder discutir, planear, decidir e implementar a transição energética que querem. Isso implica o acesso e a aquisição de um conjunto de capacidades técnicas relativas não só à produção e consumo de eletricidade, mas também à avaliação das consequências sociais e ambientais das suas decisões.
A capacidade de decisão sobre matérias de energia não se limita a conseguir escolher o melhor sistema de energia para um prédio ou escola, ou o contrato de eletricidade mais adequado para uma dada habitação. Embora este nível de literacia energética seja essencial para que os cidadãos saibam fazer escolhas corretas, é também necessário saber defender os seus direitos como consumidores de energia e identificar abusos por parte das comercializadoras, das concessionárias da rede de distribuição ou mesmo das autarquias. Para que as comunidades consigam construir uma transição energética justa é importante ir mais longe no esforço de capacitação, para que também se possam auto-organizar para defender coletivamente os seus interesses e participar ativamente na conceção e implementação do próprio sistema energético.
Assim, é necessário construir espaços de formação e o acesso à informação abertos a todos os cidadãos, a partir dos movimentos sociais, associações locais, cooperativas, grupos e comissões de moradores, que deverão ser capazes de responder a questões como:
Estes são espaços de decisão coletiva onde as comunidades podem discutir, partilhar informação e decidir qual a transição energética que querem, mas também organizar-se para defender os seus direitos e levar a cabo lutas por justiça e democracia energética. Isto pode ser conseguido através de assembleias populares dedicadas exclusivamente a esta questão.
A mobilidade é hoje um direito imprescindível à vida dos cidadãos. Mas é também um dos setores mais responsáveis pela emissão de gases de efeito de estufa. Na luta contra as alterações climáticas, a abolição da mobilidade fóssil é uma grande prioridade, mas os objetivos de redução definidos politicamente nas últimas décadas não têm sido minimamente atingidos em Portugal. A dependência da mobilidade motorizada individual é um problema que exige intervenções a todos os níveis.
Tem existido, nos últimos anos, um interesse acrescido por parte da política em desenvolver formas de mobilidade urbana e interurbana mais sustentáveis. No entanto, as soluções implementadas limitam-se muitas vezes à área urbana em si, deixando de fora toda a periferia, embora esta seja altamente dependente dos empregos e dos serviços concentrados nos centros urbanos. Nos últimos anos, para uma grande parte dos municípios do interior, a carência de ofertas de mobilidade acessível não diminuiu, pelo contrário, em algumas áreas tem vindo a agravar-se. Para tal contribui o facto de a oferta de transporte público existente ser assegurada por empresas privadas cuja motivação é a maximização do seu lucro e não a cobertura das necessidades de mobilidade da população a preços acessíveis.
Desde os estudantes nas suas deslocações para a escola que frequentam (muitas vezes com obrigatoriedade de estarem longas horas à espera de transporte no final do dia ou tendo que iniciar a sua jornada de madrugada) até às pessoas que se deslocam para tratamentos e consultas, passando por simples assuntos a tratar na Câmara Municipal, nos serviços municipalizados ou em serviços do Estado central. Em muitas destas situações o cidadão é levado a reservar um dia inteiro para tratar de um problema que leva uns minutos no atendimento e obrigado a suportar os custos monetários inerentes. Para colmatar as falhas dos sistemas de mobilidade existentes, muitas famílias mantêm um ou mais automóveis privados, geralmente propulsionados por combustíveis fósseis, e percorrem diariamente grandes distâncias para ir trabalhar, estudar e aceder a serviços essenciais, com todas as consequências negativas que este tipo de mobilidade individual representa, tanto do ponto de vista económico e social, como ambiental.
Muitas autarquias criaram sistemas de transporte circular e existem soluções inovadoras para resolver esta questão, que tem uma enorme influência na qualidade de vida dos cidadãos. As novas tecnologias e plataformas de comunicação e informação podem ter aqui um papel importante, permitindo a coordenação e articulação de vários meios de transporte e a mobilidade colaborativa, criando soluções intermodulares e de utilização coletiva.
Abaixo são apresentadas algumas propostas que podem ser implementadas a nível municipal:
Subscritores
- Guilherme Luz - Investigador em Sistemas Sustentáveis de Energia
- Miguel Macias Sequeira - Investigador em energia e clima
- Devina Shah -EU Policy & Advocacy @ ECOLISE
- Ana Silva - Analista de dados
- Pedro Palma - Investigador
- David João Carvalho Mendes - eng do ambiente
- Hans Eickhoff - Médico e investigador
- Daniela Ferreira da Silva - Estudante de Doutoramento em Ciências da Comunicação
- Gil Pereira - Educador ambiental
- Luís Filipe Franco Olival - doutorando
- Vera Ferreira - Investigadora
- Carolina Cruz de Castro - Estudante de Doutoramento em Energia e Clima no CENSE
- STOP Manifesta
- Suhita Osório Peters - JDE
- Sofia Ribeiro - Profisisonal de comunicação no setor da energia; investigadora social na área da energia descentralizada
- Rui Pulido Valente - Coopérnico
- Climáximo
- António Eloy - Escritor
- Bernardo Calado - Developer e projetista de projetos energia renovável
- Célia Catarina Pereira Lavado - Geógrafa. Gestora de projetos.
- Movimento Cívico Ar Puro
- José Osório - Engenheiro
- NATASHA LOUISE DE LEMOS VAN DOORN - Gestão de projectos na area ambiental
- Islene Façanha - Analista de políticas climáticas
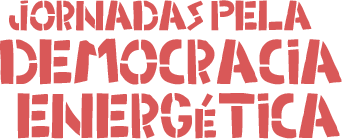
Apoiar e subscrever ações